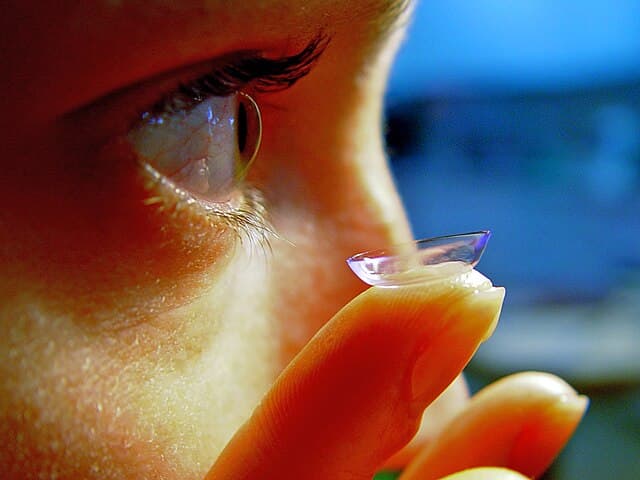Estava faltando munição em algumas lojas de armas dos Estados Unidos e tinha fila para fuzis semi-automáticos.
Isso dá uma ideia da procura, que disparou no começo da pandemia e emendou com os protestos violentos promovidos pelo Black Lives Matter, com os antifas como linha auxiliar.
A liberalidade no uso e porte de armas apareceu dos dois lados: entre manifestantes – um fenômeno que só poderia acontecer nos Estados Unidos – e entre voluntários que se oferecem para proteger comerciantes sob risco de saques e incêndios.
Foi fazendo a vigilância num posto de gasolina em Kenosha, o novo foco dos protestos, que um jovem de apenas 17 anos, Kyle Rittenhouse, armado com uma AR15, acabou cometendo o erro de ficar isolado entre um grupo de manifestantes.
Caiu no chão, foi atacado pelo grupo e atirou. Matou dois e feriu um.
Depois se levantou – obviamente já sem ninguém por perto – e caminhou de braços erguidos em direção dos carros de polícia que chegavam. Foi preso e indiciado.
Como menor, Kyle Rittenhouse não tinha permissão para andar armado. Também não poderia, legalmente, atravessar armado a fronteira entre seu estado, Illinois, e Kenosha, a cidade de Wisconsin onde no passado funcionou a American Motors.
Durante o dia, ele aderiu a um grupo que lavava as pichações de protesto numa escola. Demonstrava comportamento “errático”, mas está sendo saudado como herói nos comentários dos sites de direita.
“Um exemplo para homens adultos que ficam em casa reclamando e não fazem nada enquanto a ralé marxista toma as cidades”, dizia um. Outros são mais explícitos ainda e as palavras “guerra civil” aparecem a todo momento.
Como os Estados Unidos têm a característica única da proteção constitucional à posse de armas, confrontos a bala entre civis são uma hipótese bem concreta.
Na atual onda, já apareceram armas pesadas entre manifestantes e até confrontos em que donos de veículos presos nas marchas reagem à altura.
Em 2016, ainda no governo Obama, Micah Johnson, veterano da guerra no Afeganistão, matou cinco policiais e feriu sete em Dallas. Era adepto dos Novos Panteras Negras, que defende violência contra brancos em geral.
Os protestos em Kanesha explodiram depois que Jacob Blake, procurado por agressão sexual e invasão de propriedade, levou sete tiros nas costas de um dos quatro policiais que tentavam detê-lo.
Blake tinha uma faca no chão do carro, do lado do banco do motorista, e um histórico de resistência à polícia. A frase “Larga a faca” foi repetida várias vezes.
Incrivelmente, ele sobreviveu aos sete tiros, embora possa ficar paralítico.
A mãe dele, Julia Jackson fez apelos veementes para que o caso de seu filho não seja usado como pretexto para violência, disse que estava rezando por todos, inclusive os policiais, e pediu desculpas a Donald Trump por não ter atendido um telefonema dele.
Palavras tão humanas e sensatas tiveram, como sempre, efeito zero.
Protestos com quebra-quebra, saques e incêndios, exatamente iguais aos que acontecem no país desde a morte de George Floyd, transformaram a tranquila Kanesha no caos cada vez mais radicalizado que acontece nas cidades americanas onde os protestos se perpetuam.
Muitos manifestantes chegam de outros locais para participar – e também os voluntários para proteger comerciantes, geralmente homens jovens que parecem ter sido militares e ter controle de sua própria atuação, sem muito risco de que cometam erros como os de Kyle Rittenhouse.
Mas para perder o controle, claro, basta uma escalada de insultos ou ataques físicos. Num dos protestos mais recentes uma manifestante aparece gritando “Morte à América”. Depois, é queimada uma bandeira americana.
Ironicamente, Kanesha está parecendo o Irã.
E nada de bom sairá disso se a violência nas ruas continuar, o que é praticamente garantido que aconteça até a eleição presidencial de novembro.